Há algo de errado na forma que lidamos com a morte e precisamos fazer alguma coisa para mudar isso.
Essa é a principal conclusão de um relatório produzido pela Comissão sobre o Valor da Morte, um grupo de especialistas que se reuniu para investigar o que significa morrer nos tempos atuais.
O material, que recebeu o título sugestivo de "Trazendo a morte de volta à vida", foi publicado recentemente no The Lancet, um dos principais periódicos científicos do mundo.
Logo nos primeiros parágrafos do artigo, os autores apontam que "a história do morrer no século 21 é cheia de paradoxos".
"Enquanto muitas pessoas recebem tratamentos excessivos e fúteis nos hospitais, longe da família e da comunidade, outra parcela da população não tem acesso a nenhum tipo de terapia, nem para aliviar a dor, e morre de doenças preveníveis", escrevem.
A BBC News Brasil conversou com a médica inglesa Libby Sallnow, autora principal do relatório e especialista em cuidados paliativos. Ela atua no serviço público de saúde do Reino Unido, no St. Christopher Hospice, uma casa de cuidados para pacientes terminais, e nas universidades de Bruxelas, na Bélgica, e College London, na Inglaterra.
BBC News Brasil - No seu ponto de vista, o que é a morte?
Libby Sallnow - Nós costumamos falar da morte como um evento. E, como mencionamos no artigo, a morte se tornou mais difícil de acontecer, graças à tecnologia médica. Partes do corpo que antes falhavam, e definiam esse fim, agora podem ser substituídas por máquinas ou por novos órgãos em transplantes.
A tecnologia está ampliando os limites do que entendemos como morte. Mas, de forma geral, a morte é vista como um ponto final, um evento que acontece com todos.
BBC News Brasil - E o que é morrer?
Sallnow - Morrer é um processo cujo entendimento fica muito mais aberto, especialmente na hora de definir o começo. Em termos médicos, falar que alguém está morrendo envolve os últimos dias, ou as últimas horas. Mas os cuidados paliativos podem começar a partir do diagnóstico de uma doença, ainda que a pessoa esteja se sentindo bem naquele momento.
Para algumas pessoas, morrer pode durar muito tempo mais. Alguns até acreditam que esse processo se inicia assim que nascemos. Afinal, a cada dia que passa, estamos mais próximos de morrer.
Essa resposta então vai depender da perspectiva de cada um e se você está analisando a questão do ponto de vista médico ou filosófico. Muitas pessoas que conheci na minha prática clínica me disseram que estavam morrendo. E isso não significava que a morte delas aconteceria nos próximos dias. Elas apenas queriam dizer que o processo já havia começado.
Como mencionei mais acima, definir o que é morrer se tornou mais difícil com o avanço da medicina. Antigamente, as pessoas estavam com uma doença ou sofriam um acidente e era bem mais fácil de dizer se elas iam morrer ou se recuperar.
Agora, com as doenças crônicas, como a demência e a insuficiência cardíaca, falamos de um processo que pode levar anos. Então o foco nesses casos é tentar viver bem, mesmo como uma enfermidade considerada terminal. Pode ser, inclusive, que você acabe morrendo de outra coisa no caminho.
BBC News Brasil - É curioso como essa discussão ultrapassa as barreiras da ciência. O cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil, por exemplo, tem uma música em que ele diz "não ter medo da morte, mas, sim, medo de morrer"...
Sallnow - Isso é muito interessante de se pensar. A compreensão cultural do que morrer significa é geralmente mais poderosa do que o conceito técnico da medicina. As narrativas populares é que nos dão o contexto necessário para entender isso. Inclusive, o famoso diretor americano Woody Allen tem uma frase famosa a esse respeito: "Eu não tenho medo de morrer. Só não quero estar lá quando acontecer".
Sim, a morte é amedrontadora e desconhecida. Nós perdemos o controle e nos tornamos dependentes dos outros. Tudo isso vai contra a narrativa da nossa época, em que independência, força, autonomia e controle do corpo e das próprias decisões são tão importantes.
E isso me leva a uma outra discussão sobre o desconhecimento. Há uma noção de que a morte costumava ser mais familiar para muitas comunidades e culturas em todo o mundo. As pessoas estavam acostumadas com o que era morrer.
Na minha profissão, vejo pessoas morrendo o tempo todo. Mas, fora desse contexto, especialmente nos países mais ricos, as pessoas não veem mais isso. Nós morremos cada vez mais tarde, o que é ótimo. Trata-se de uma conquista da medicina e da saúde pública.
Mas isso também significa que você pode ser muito mais velho quando vê a primeira pessoa mais próxima morrer. Isso pode ser muito assustador e no geral não se sabe muito bem quais são os sinais e como oferecer apoio nesse momento final.
Existe um padrão do que acontece quando a pessoa está nas suas últimas horas. Ocorre uma alteração no ritmo da respiração, há mudanças de fala e outros detalhes muito comuns. Mas, se você nunca viu isso antes, essa cena pode ser assustadora.
Isso faz com que os amigos e familiares enviem a pessoa que está morrendo para o hospital, porque há uma ideia de que essa mudança de padrões do corpo não é natural. E, claro, elas têm medo de não fazer a coisa certa pela pessoa que amam. Há um temor de que o indivíduo está sofrendo e sem o apoio necessário. O resultado disso é o aumento das mortes em hospitais.
Me parece que temos um enorme desafio pela frente. A morte se tornou tão desconhecida e fora do radar que isso nos leva a um círculo vicioso. Nós transferimos a responsabilidade de cuidar da pessoa para o sistema de saúde, quando o fim da vida pode acontecer no conforto de casa em muitos casos.
De certa maneira, isso me lembra de toda a discussão sobre o parto. Há uma medicalização do nascimento e também da morte. É claro que, em ambos os casos, há um componente ligado à medicina, mas não podemos nos esquecer da importância da família e dos relacionamentos próximos nesses momentos-chave.
Nosso objetivo com a comissão foi mostrar que há algo errado. E precisamos, sim, de medicações, cuidados paliativos e suporte à saúde na hora da morte. Mas isso não pode ser a única coisa que oferecemos.
Nós temos ótimos serviços de cuidados paliativos espalhados pelo mundo, mas às vezes sinto que essa é a única resposta que damos à morte. É claro que o indivíduo precisa desses cuidados, de remédios para a dor, de uma boa cama... Mas tudo isso são apenas ferramentas, uma maneira de garantir que elas tenham boas conversas com familiares e amigos, para que possam refletir sobre o sentido da vida e se preparar para morrer. Essas sim são as coisas grandes, os fatores existenciais e significativos.
BBC News Brasil - E como a senhora se interessou por esse assunto e direcionou a carreira para essa área?
Sallnow - Quando eu era estudante de medicina, comecei a aprender sobre os cuidados paliativos. E, para mim, ser médica vai muito além de prescrever comprimidos. É claro que o tratamento é uma parte importante do meu trabalho, mas eu estava mais interessada em entender como a comunidade, as relações e os contatos são promotores de saúde.
Existem muitos estudos comprovando que os sistemas de saúde não constroem vidas mais saudáveis sozinhos. O importante é o ambiente. Os determinantes sociais de saúde são muito mais poderosos para determinar a forma que vivemos e morremos.
Eu sempre vi a morte como um evento tão importante, pelo qual todos nós vamos passar. É uma certeza universal. E uma coisa que percebi como voluntária de um asilo era que ninguém falava sobre morrer. As pessoas tentavam esconder e fugir do assunto, o que só torna todo o processo mais difícil para nós mesmos.
Ainda quando era estudante de medicina, fui para a Índia e tive contato com um novo modelo sobre a morte, em que a comunidade estava no centro de tudo. As pessoas estavam cientes do que é morrer e elas tiraram o controle de médicos e enfermeiros. Não tinha nada parecido com isso no Reino Unido, onde só víamos hospitais e casas de cuidado.
Eu voltei da Índia muito inspirada e com vontade de mudar a visão que temos sobre o morrer. Há 20 anos, comecei a trabalhar com colegas de várias partes do mundo para conhecer e desenvolver diferentes modelos para trazer a morte de volta ao controle da comunidade.
BBC News Brasil - Além da Índia, a senhora lembra de outros modelos interessantes de como lidar com a morte de forma mais saudável e sustentável?
Sallnow - Na Áustria, há uma iniciativa chamada "últimos socorros", numa referência aos primeiros socorros aos quais estamos acostumados. A ideia é empoderar todo mundo sobre o que fazer diante da morte das pessoas.
Temos projetos que focam na comunidade e tentam mostrar como é possível ajudar os outros num momento como esse. Eles também ensinam o que acontece perto da morte, o que dizer para a pessoa e como dar o suporte adequado.
Existe também o projeto das doulas da morte, inspiradas nas doulas que fazem o parto. O interessante é que essa iniciativa foca nas mulheres mais velhas, que são aquelas que comumente mais tiveram contato com a morte dentro daquela comunidade. A ideia é que elas ensinem e promovam abordagens sobre o que falar para uma família em luto e como identificar quando o processo natural da morte se inicia.
Por fim, há também um modelo de "alfabetização sobre a morte". A ideia é usar o conceito da alfabetização em saúde, que nos ensina sobre a importância da dieta e dos exercícios físicos para prevenir as doenças. No caso da morte, a proposta é fazer planos para o futuro e avisar as pessoas próximas, por exemplo, se você não quer ir para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou não deseja fazer algum tratamento específico e não puder decidir na hora.
BBC News Brasil - Existe uma desigualdade na forma como a morte é abordada em países ricos e pobres?
Sallnow - Sim, há uma enorme desigualdade. Se você só considerar a expectativa de vida, há uma diferença de décadas entre os índices de nações ricas e pobres. Um dos participantes da nossa comissão vem do Malaui e a expectativa de vida lá é quase 20 anos mais baixa em relação ao Reino Unido. Em outros países, essa disparidade é ainda maior.
Há diferenças significativas também se você analisar as principais causas de morte de cada lugar. Nos mais pobres, há mais óbitos por conflitos, violência ou doenças e acidentes preveníveis. E ainda existe uma enorme desigualdade no acesso aos serviços e às políticas públicas de saúde. Tudo isso ajuda a determinar como, quando e porque cada um de nós vai morrer.
Mesmo para aquelas pessoas dos países mais pobres que têm acesso aos cuidados paliativos, a última disparidade chocante é a falta de acesso a formas de aliviar a dor. Existem mapas mostrando como é a distribuição de morfina [remédio usado para aliviar esse sintoma] por várias partes do globo. No Canadá e nos Estados Unidos, acontece um uso além da conta. Já na Índia, na África e na Rússia temos uma falta desse medicamento. Então muitas pessoas ainda estão morrendo com dor, quando é possível aliviar esse sofrimento.
BBC News Brasil - A senhora mencionou o aumento da expectativa de vida nos últimos séculos. Como uma vida mais ampla modificou, para melhor e para pior, a nossa relação com a morte?
Sallnow - A expectativa de vida é uma conquista da qual devemos nos orgulhar profundamente. E isso só foi possível graças à medicina, à saúde pública, à vacinação e às mudanças na habitação. Todos esses diferentes determinantes sociais contribuíram de alguma maneira para isso, o que é brilhante e admirável.
Mas o problema agora é que morremos cada vez mais tarde e por doenças crônicas, e não de forma inesperada, por acidentes ou doenças preveníveis. Existe então uma transição, em que os óbitos ocorriam de forma aguda e em indivíduos mais jovens, para mortes por condições crônicas múltiplas, que levam dez ou mais anos. No cenário atual, a deterioração da saúde acontece de forma muito lenta.
Os sistemas de saúde, porém, sofrem para lidar com essa transição. Porque eles são baseados num modelo de cuidado agudo. Acontece o diagnóstico de uma infecção ou de uma fratura no quadril, aquilo é tratado e, pronto, você recebe alta. Mas agora a tendência é precisarmos cada vez mais de intervenções regulares, por muitos e muitos anos.
Isso revela a necessidade de um novo modelo de saúde. Porque estamos falando agora de obesidade, tabagismo, transtornos mentais e várias outras condições em que a prevenção é muito mais relevante que o tratamento.
Devemos trabalhar mais próximos da própria pessoa e de seus familiares. Afinal, são eles que farão as escolhas no dia a dia. Já o modelo antigo, que imperou por pelo menos 50 anos, é muito mais paternalista. O médico fazia o diagnóstico, prescrevia o tratamento e só.
BBC News Brasil - Em muitas comunidades, falar sobre morte é um tabu. Esse é um fenômeno recente ou vem de uma tradição antiga?
Sallnow - Existem vários exemplos disso ao longo da história. Algumas tradições populares falam sobre a morte de forma bem aberta. Há lugares que fazem funerais públicos, promovem conversas sobre o que há depois da vida e preparam as pessoas sobre o que é morrer. Outros lugares, na contramão, até falar a palavra morte já é sinal de má-sorte.
Um exemplo clássico de celebração daqueles que já se foram acontecem no México e no Japão. Mas existem também outros lugares em que amigos e familiares visitam os túmulos e conversam constantemente sobre a pessoa que morreu, até no sentido de mantê-la viva na forma de memórias coletivas.
Há comunidades que veem a morte como parte da vida. E outras que, por questões religiosas e culturais, não querem nem falar no assunto. Porém, mesmo nas sociedades em que a morte é um tabu, existem maneiras de abordar o tema de forma indireta ou figurada. Afinal, os conceitos sobre a morte já estão lá, eles só não falam diretamente nisso.
Mas percebemos que existe atualmente um sentimento geral de não se falar abertamente sobre a morte. Isso se deve parcialmente ao fato de as pessoas terem medo, mas também porque há um desconhecimento generalizado e uma ilusão de que basta ir ao hospital para resolver todos os problemas de saúde.
A morte é triste e ninguém quer perder as pessoas que ama. Não queremos minimizar isso de jeito nenhum. Mas, quando não falamos sobre o tema ou não nos preparamos para esse fato, isso é bastante prejudicial, já que não fazemos nenhum plano, não nos despedimos e quem fica não sabe como lidar com tudo.
BBC News Brasil - Nós estamos no meio de uma pandemia, em que as imagens de UTIs e pacientes intubados se tornaram comuns, assim como os números crescentes de mortes por covid. Isso nos aproximou ou nos afastou ainda mais do significado de morrer?
Sallnow - A pandemia teve muitos impactos. Primeiro, ela escancarou diariamente nos jornais e nas televisões o que é morrer. Por um lado, isso aumentou o medo de todos nós. Até porque a morte sempre foi apontada como a consequência derradeira da covid.
Por outro, toda essa crise reforçou a importância de estar conectado em tempos tão difíceis. É só lembrar das imagens de funerais em que só uma pessoa podia estar presente, ou a ideia de alguém morrendo sozinho, sem a família, isolado num hospital...
Isso tudo nos provou que a medicina não é suficiente para lidar com a morte. Você necessita de um excelente sistema de saúde, mas as pessoas precisam estar próximas da família. Os laços sociais fortes são importantes demais para o bem-estar de todos. A pandemia então comprovou o quão ruim é estar sozinho e como a falta de suporte social pode ser destrutiva.
Num nível existencial, me parece que as pessoas estão mais reflexivas sobre o que significa a mortalidade nesse momento. Todos nos tornamos mais conscientes do papel da perda e da morte em nossas vidas, já que muitos foram afetados pela partida de alguém querido.
BBC News Brasil - E também não podemos ignorar o impacto que as mudanças climáticas terão no mundo nas próximas décadas. O efeito disso na perspectiva sobre a mortalidade pode ser parecido ao que vimos na pandemia?
Sallnow - As mudanças climáticas desafiam a noção de que temos controle sobre a natureza. De certa maneira, há uma similaridade com a pandemia. Sentimos que estamos acima e mandamos na natureza, quando na verdade fazemos parte dela.
É preciso considerar que o excesso de tratamentos médicos e essa tentativa de estender a vida tem um grande custo financeiro. Isso por sua vez representa um enorme impacto no planeta, do ponto de vista de recursos naturais e da emissão de carbono. Em última análise, esse exagero pode levar a uma piora da situação global e provocar um aumento nas doenças e nas mortes. Ou seja, nossa busca por ampliar a vida hoje pode afetar a saúde das gerações futuras.
Devemos então colocar na balança o preço ético, financeiro e climático de tratamentos que não trazem benefícios claros ao paciente. E há muitas terapias fúteis que são oferecidas nos hospitais, especialmente nos momentos mais críticos, que não vão mudar em nada a progressão do quadro.
BBC News Brasil - No primeiro relatório, vocês mencionam "os cinco princípios de uma utopia realista". A senhora poderia explicar quais são eles e o que significam?
Sallnow - Nós queremos ser esperançosos sobre o futuro, porque descrevemos muitas coisas que estão erradas e não funcionam. Nosso objetivo, então, foi propor como é possível mudar esse cenário para melhor.
Nós podemos nos inspirar nos sistemas que existem para outros problemas. O combate à obesidade, por exemplo, envolve uma série de políticas públicas diferentes com um objetivo em comum. Tudo está conectado e precisamos entender essas questões de uma maneira mais ampla.
O mesmo vale para o morrer. Não basta apenas ampliar a oferta de cuidados paliativos ou focar só nas ações comunitárias. Há muitas e muitas áreas que precisam ser abordadas.
Nós definimos então cinco princípios que, se colocados em prática, podem mudar radicalmente a forma como as pessoas lidam com a morte e com o luto. Nós focamos nas desigualdades, no papel das relações sociais e das redes de contato, a ideia de que a morte não é apenas um evento fisiológico, mas envolve também questões espirituais e existenciais, e a proposta de que tudo isso deve ser abordado de uma maneira que seja apropriado para cada cultura.
Essas conversas sobre morrer são importantes para todos nós durante a vida. Então precisamos encontrar maneiras de integrá-las no nosso dia a dia.
Há exemplos ao redor do mundo em que alguns aspectos dessa utopia realista já estão presentes. O que precisamos agora é começar a ampliar essas iniciativas, para que elas deixem de ser ações isoladas. A ideia é ver como podemos aprender e adaptar esses projetos para cada sociedade, sempre respeitando os aspectos culturais e religiosos.
BBC News Brasil - A ideia da imortalidade é algo que a humanidade sempre perseguiu, e vemos isso em histórias antigas e recentes. A senhora acha que chegará o dia em que seremos imortais? Ou vida e morte são eventos que estarão sempre conectados?
Sallnow - A imortalidade sempre foi um sonho. Isso é histórico e está presente no nosso imaginário há milênios. Sempre existiram lendas sobre um elixir especial que você toma e rejuvenesce ou vive para sempre.
Mas eu diria que, no momento, diante de tantas desigualdades que vemos em todo o mundo, nosso foco não deveria ser em estender ainda mais a vida daquele grupo minoritário que é capaz de pagar por isso, enquanto a maior parte do mundo ainda está morrendo de doenças preveníveis.
Isso é uma questão de justiça social. Enquanto não nos assegurarmos que a maior parte do nosso mundo vive de forma mais igualitária, é injusto investir tanto dinheiro na busca pela imortalidade.
Em segundo lugar, eu me questiono: onde essas pessoas que querem viver pra sempre acham que estão? Porque há um claro conflito entre mudanças climáticas e imortalidade.
A menos que mudemos radicalmente a forma que vivemos e consumimos os recursos do planeta, não haverá a menor possibilidade de vivermos por 200 anos ou mais.
FONTE: BBC BRASIL
O Que a Bíblia Ensina Sobre a Morte?




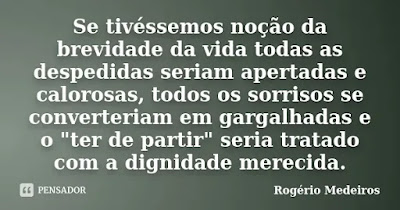












































.jpg)




Nenhum comentário:
Postar um comentário